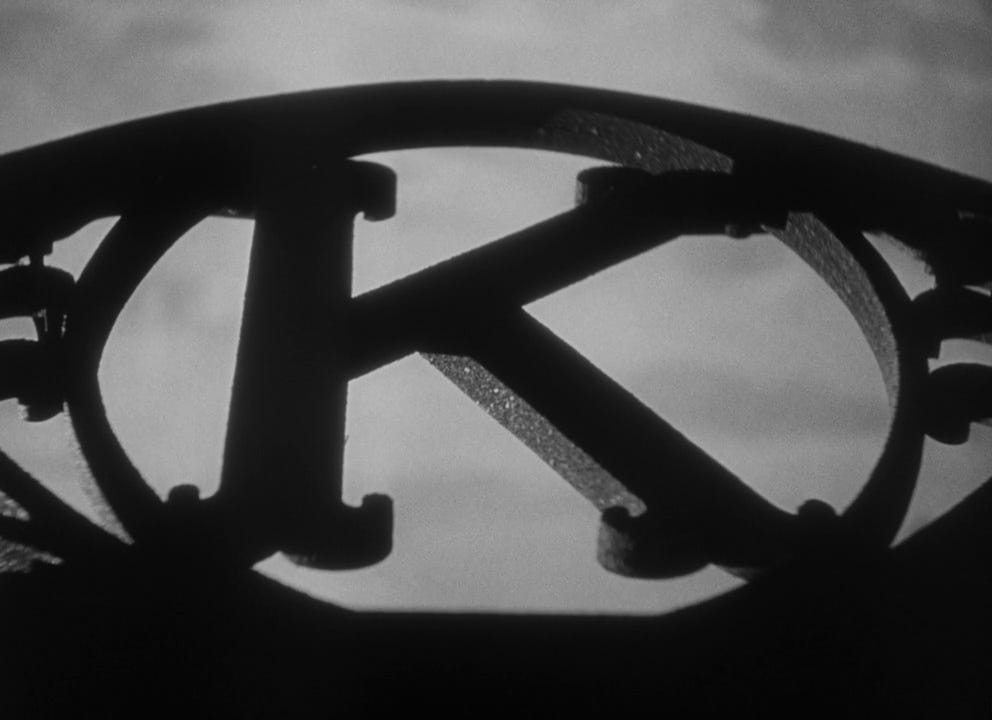#KaelXKane
De como a crítica pode destruir a reputação de um gênio do cinema
Hudson e Hobby, homens de letras que nunca haviam se conhecido, se entreolharam. Havia lágrimas de raiva nos olhos de Hudson.
“Os autores são massacrados aqui”, disse Pat, solidário. “Não deveriam vir jamais”.
“ Quem ia criar essas histórias? Esses idiotas?”
“ Bom, em todo o caso, não os autores”, disse Pat. “Eles não querem autores. Querem escritores - como eu”.
“Mais poderosos que a espada”. In: As Histórias de Pat Hobby, de F. Scott Fitzgerald. Pág. 162.
No final de agosto de 1940, Herman Mankiewicz se enfureceu com a nota publicada pela famosa fofoqueira Louella Parsons em sua popularíssima coluna de mexericos, onde citava Orson como tendo dito: “… e então escrevi Cidadão Kane”. Mas embora o próprio Mankiewicz talvez não tivesse percebido, o verdadeiro motivo de sua indignação naquele determinado momento era mais complicado do que o comentário de Orson para uma colunista de fofocas. Havia acabado de assistir ao copião de Kane e ficado surpreso com o que viu na tela, pois certamente não se tratava do filme que imaginara. A obra prevista por ele seguia um estilo visual muito convencional. Bastava dar um simples olhar de relance no copião para quem entendia de cinema como Mankiewicz para logo deduzir que Orson estava fazendo um tipo de filme completamente diverso. Em memorando a Orson, Herb Drake comunicou a reclamação do roteirista de que o diretor “não estava cumprindo as normas cinematográficas estabelecidas”. Além disso, sentia-se inquieto com a desconcertante tendência de Orson para evitar os primeiros planos e, consequentemente, mostrar a ação de maneira teatral. Com todas essas queixas, Mankiewicz mesmo assim considerou “admirável” o que vira (…) Tendo percebido que esse filme “admirável” não era o que ele pretendia, de repente Mankiewicz julgou-se no direito de reivindicá-lo, de torná-lo de certa forma seu, quando acabava de se dar conta de que não era. Mas, segundo o contrato que assinara, o reconhecimento de seu trabalho dependia exclusivamente de uma decisão da Mercury. [grifos meus]
Orson Welles: uma biografia. Págs. 202-3.
Se o roteiro de Cidadão Kane, como composto originalmente por Mankiewicz, surpreendeu a todos (inclusive o próprio Welles), o mesmo vale para o trabalho que Welles fez sobre o roteiro de Herman.
PETER BOGDANOVICH: Antes de começar as filmagens, como é que vocês aplainaram as diferenças?
ORSON WELLES: Foi por isso que acabei largando Mank sozinho, porque estávamos começando a perder muito tempo regateando. Aí, depois de um consenso mútuo sobre o enredo e a personagem, Mank foi embora com Houseman e fez a versão dele, e eu fiquei em Hollywood e escrevi a minha. No fim, claro, quem estava fazendo o filme era eu - eu é que tinha de tomar as decisões. Usei o que quis do roteiro de Mank e, certo ou errado, mantive o que gostava do meu roteiro.
Este é Orson Welles. Pág. 98
E o que diz Orson Welles sobre a autoria no cinema?
Para mim, quase tudo o que é batizado como direção é um blefe. No cinema, há muito poucas pessoas que são verdadeiramente diretores, e, entre estes, pouquíssimos que já tiveram a oportunidade de dirigir. A única direção de real importância é a exercida durante a montagem. Precisei de nove meses para montar Cidadão Kane, seis dias por semana (…) Em outras palavras, tudo se passa como se um homem pintasse um quadro: ele o termina e alguém vem fazer retoques. Mas este alguém não pode, naturalmente, acrescentar pintura sobre toda a superfície do quadro. Trabalhei meses e meses na montagem de Soberba [The Magnificent Ambersons, 1942] antes que me fosse arrancada das mãos: todo esse trabalho está ali, na tela. Para o meu estilo, para minha visão do cinema, a montagem não é um aspecto, é o aspecto. Dirigir um filme é a invenção de pessoas como vocês: não é uma arte, no máximo uma arte que dura um minuto por dia. Este minuto é terrivelmente crucial, mas só muito raramente acontece. O único momento em que se pode exercer algum controle sobre o filme é na montagem. [grifos meus]
Orson Welles: precedido de “Welles e Bazin”, de François Truffaut, e seguido por “Conversas com Orson Welles”. Pág. 139.
O que podemos intuir dessa afirmação de Welles (de 1957, época do lançamento de A Marca da Maldade) é que um filme é a soma de várias autorias (e outras circunstâncias), onde o diretor é mais um condutor ou maestro, que reúne todos essas contribuições na sala de montagem para dar forma ao filme. Além disso, a questão da autoria do cinema é, ao final, como Welles mesmo disse, “uma invenção de pessoas como vocês”. Isto é, os críticos e teóricos de cinema. A partir dos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, críticos e historiadores do cinema (entre eles, Peter Bogdanovich),
[D]esenvolveram uma “teoria da história cinematográfica”, baseada na idéia de autoria do diretor. Enquanto a Nova Hollywood emergia das cinzas da era do estúdio, os defensores da “teoria do autor” proclamavam que a Velha Hollywood representara o cinema do diretor. Proclamavam, também, que os únicos diretores de filmes que mereciam canonização como autores-artistas eram aqueles cujo estilo pessoal surgira de certo antagonismo em relação ao sistema de estúdio como um todo - ao maquinismo dos estúdios-fábricas de Hollywood, desumanizador e ávido de lucro. O principal defensor dessa teoria era Andrew Sarris, que, no consagrado estudo The American cinema: directors and directions, 1929-1968, atribuía ao chefe de estúdio o papel de mau-caráter na batalha épica de Hollywood e reduzia a história do cinema norte-americano às carreiras de alguns heróicos diretores (…) Sarris desenvolveu uma teoria simplista em que celebrava o diretor como o único responsável pela existência de filmes de arte numa indústria assolada por maus roteiristas e negociantes sedentos de lucro.
O Gênio do Sistema. Pág. 19.
O livro de Thomas Schatz é em grande parte motivado pela tentativa de se corrigir essa visão historiográfica que foi primeira desenvolvida por críticos franceses como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette e Eric Rohmer no final dos anos 50 na França (em torno da revista Cahiers du Cinéma) e que ficou conhecida como politique des auteurs [André Bazin desde o início da Cahiers tinha uma serie de reservas quanto à politique des auteurs. Isso, por exemplo, precipitou uma série de disputas com Godard. Toda essa história a respeito da crítica e historiografia é recontada nas páginas do clássico livro de Bazin, O que é cinema, que foi relançado em 2018 pela editora Ubu (com tradução de Eloísa Araújo Ribeiro). O prefácio, escrito por Ismail Xavier, reconta essa história em seu esboço biográfico de Bazin. Ver também Cinefilia, de Antoine Baecque]. David Bordwell escreveu extensamente sobre o nascimento da “política dos autores” no contexto do pós-Guerra francês (Sobre a história do estilo cinematográfico, de David Bordwell, Págs. 76-7): com a derrota dos nazistas e fim da Ocupação, os franceses viram as telas de seus cinemas serem inundadas de filmes americanos que ficaram retidos nos últimos anos pela censura alemã. Como vimos anteriormente, a concepção do film noir se deu nesse contexto, que viu uma verdadeira explosão de cultura cinematográfica, com o lançamento de diversas revistas especializadas e cineclubes. Georges Sadoul, Roger Leerhardt, Raymond Queneau, Jean Cocteau e André Bazin foram os pais intelectuais dessa geração (grupo que ficou conhecido como nouvelle critique), que não só renovaram o discurso crítico e teórico em torno do cinema, como também elaboraram sua própria história do cinema em livros e revistas (como a Cahiers du cinèma, fundada em 1951 e a Positif, fundada em 1952). Cineclubes tornaram-se os templos dessa geração, e os festivais (Cannes, Locarno, Karlovy Vary e Berlim) passaram a abordar uma régua crítica inspirada nas teorias desse grupo.
Novos filmes desempenharam um papel central nesse renascimento. Cinéfilos parisienses acorreram em massa para ver os filmes de Hollywood bloqueados por quatro anos de ocupação alemã: os films noirs, os vibrantes musicais em tecnicolor, as sagas históricas, as obras de Hitchcock e Preston Sturges e, acima de tudo, Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941) e Soberba (The Magnificent Ambersons, 1942), de Orson Welles, e Pérfida (The Little Foxes, 1941) e Os melhores anos de nossas vidas (The Best Years of Our Lives, 1946), de William Wyler. No mesmo momento, surgiram os primeiros filmes do neorrealismo italiano, como Roma, cidade aberta (Roma, città aperta, 1945) e Alemanha ano zero (Germania anno zero, 1947), de Roberto Rossellini, Vítimas da tormenta (Sciuscià, 1946) e Ladrões de bicicleta (Ladri di bicicleta, 1948), de Vittorio de Sica, e A terra treme (La terra trema, 1948), de Luchino Visconti. Houve também novas e importantes obras dos diretores franceses emergentes Robert Bresson, Roger Leenhardt e Jacques Tati. Finalmente, os cinè-clubs e as salas especializadas reviveram importantes filmes dos anos 1930. Zero de conduta (Zéro de conduite), de Jean Vigo, A esperança (Espoir, 1939), de André Malraux, e Um dia no campo (Une partir de campagne, 1936), todos tiveram as suas estréias após a guerra.
Sobre a história do estilo cinematográfico. Pág. 77.