#NêniasNugasSilêncio
Prefácio de "No tropical Parnaso", o primoroso novo livro de Érico Nogueira
Por Pablo Simpson
“O resto é nênia; nugas; e silêncio”. Há algo neste verso final do poema de abertura do livro de Érico Nogueira que talvez nos dê alguns caminhos interpretativos para este livro tão cheio de “bosques de escombros”, descaminhos, viagens pelo mundo físico e pelo mundo da literatura, com a lembrança de que o verso sugere um diálogo com o silêncio final de Hamlet: “the rest is silence”. Talvez transite por três lugares. O primeiro deles, as nênias, o elogio fúnebre, por assim dizer, o luto, expresso sob a forma do canto, de um mundo “ouvido a este mundo” e cuja figura central, no livro, é o Cristo, que surge no poema “Romance do Major”.
E do sangue que verteu
Entre o horto e o sudário (…)
Em tudo imitar a Cristo,
Na cruz, no cravo, nos espinhos
É um Cristo que está também no poema “Retábulo” e cujo sangue parece espraiar-se por outros momentos do livro. Ressurge no “sangue sólido da estrela” do poema “A morte secreta” ou no belíssimo “Mar opiânico”, último poema do conjunto. Neste, que talvez pudéssemos colocar ao lado do “Cemitério marinho” de Paul Valéry, com suas figurações da paisagem marítima, do livro aberto, dos corpos e almas dissolvidos — a “argila vermelha”, no poeta francês, o “pichoso poço langue”, em Érico Nogueira — não se trata só de uma meditação sobre a finitude acompanhada pela condição movente da própria paisagem e da compreensão do eu. Há uma música nos sinos do campanário que parece instaurar o registro das nênias. E o que veremos será a expiação não só de seus personagens mas também da própria embarcação, que se tornará “esquelético barco”, espécie de navio-fantasma amaldiçoado, é provável, pelo sacrifício de um albatroz — será, como em Baudelaire, um poeta? — arremessado, “massa alada esfeita”, aos peixes.
De um a outro, do Cristo ao albatroz, aos mortos do barco, ao “poeta parnasiano estripado em Rodes”, surge um vocabulário da agonia, do flagelo, bem como imagens da dor, do “corpo na escarpa escabrosa”. Para dizer-nos a importância do tema da morte a este conjunto. “Imarcescível” como a herança nos céus anunciada na primeira epístola de Pedro, o menino diáfano que vem no primeiro poema é também “cajado; espinho; prego”. E não seria de todo inapropriado observá-lo à luz do mal não expiado do poema “Mar opiânico”: “E expie a culpa, e aplaque o mal que a todos trouxe”.
O segundo caminho é o das nugas, ninharias, coisas sem importância, ou mesmo pequenos causos encenados por um discurso em parte cômico ou tomado de autoderrisão. Como no verso “cê tem coragem, mané, nota bem, de falar em metáfora?” de Poesia bovina, livro de 2014, há algo que surge contra o próprio eu, contra o próprio discurso poético, que os modaliza. E que faz com que o registro elegíaco nunca pareça se cumprir. É o que podemos ver, sobretudo, no divertido texto em prosa situado na metade do conjunto. Nele, mesmo o tema sacrificial encontra comparação no sofrimento que o eu tem com as próprias orelhas:
Minha infância e adolescência, pois, foram uma espécie de calvário. Ouso dizer até que foram piores que o calvário, já que não consta que aquele homem, além de espinhos, cravos e cruz, sofresse também com orelhas apocalípticas (…)
No poema, se é que podemos chamá-lo poema, há duplicações de todo lado, num movimento que remonta ao livro Dois, de 2010. Traz-nos um trecho inicial hiperbólico que anuncia, como no motivo do manuscrito encontrado, o relato autobiográfico de onde provém o excerto acima. Organiza, por sua vez, em retrospecto, o próprio conjunto. Diz-nos, assim, que o poema “A morte secreta” é a história da morte desse narrador que, um pouco como Tristram Shandy e seu nariz, disserta sobre orelhas. Não para, contudo, por aí. Também este se duplica e transforma-se em crítico literário tanto de um poema escatológico de que é autor ou do poema “Remissão” de Carlos Drummond de Andrade, onde observa um eu cindido em dois, quanto de um trecho de Eusébio Macário de Camilo Castelo Branco, indicado como o “escritor com o maior dos vocabulários”. Frente a um livro repleto de vocábulos raros — “que avantesma lhe oculta, agora, a carantonha” — a brincadeira encontra reverberação também interna, explicitando o que há em No tropical Parnaso não só de ninharias, mas também de nonsense ou trapaça, duas possíveis traduções para esse termo — nuga — de origem latina.
Daí um espaço de recolhimento, na palavra que ao mesmo tempo se abre, se multiplica, se bifurca, inclusive pelas inúmeras referências literárias com as quais dialoga, exibindo-as, mutilando-as. Porém que se fecha, fazendo seu um dos movimentos centrais da poesia moderna, como observou Hugo Friedrich na poesia de Stéphane Mallarmé, que é o de imprimir à lírica dimensões que são da obscuridade, do jogo, da magia da linguagem. Desperta, a todo tempo, os seus “espíritos dormentes”, o insólito, mesmo em poemas mais narrativos, com uma espécie de saturação prosódica e rítmica — “cavos cestos ocultas”, “retóricos, ríspidos, rituais” — no trânsito entre registros da erudição e da oralidade. E é importante chamar atenção para esse movimento, sabendo que o livro de Érico Nogueira assinala esse diálogo de forma humorada: “todo o parnaso está na cama: Mallarmé”.
Ao mesmo tempo, contudo, escava um isolamento que está representado pela própria condição do homem solitário que fuma ao final, extenuado por algo que pressentimos ser, como nos diz o terceiro poema da série “Retábulo”, uma “iniciática via-crúcis das formas”. Esta coincide com o despertar a um tempo presente, ao que não é mais livro nem aventura, embora seja o momento de uma flutuação.
É noite já. Na sala opaca de fumaça,
Ele, após horas de aventura, fecha o livro. (…)
Fuma. Cansa. Flutua. Um átimo é o nirvana
Como um talher de prata pinça a porcelana.
Com isso, um deslocar-se inquieto em barco, trem, míssil, pássaro, por esses lugares — as nênias, nugas, silêncio — na rapidez desse “átimo”, dando-nos, por vezes, a sensação de um torvelinho, como se também o livro girasse “em torneado turbo o fuso”, verso do poema “O Carme das Bodas Concêntricas”. Talvez não pela ação que constitui a poesia de No tropical Parnaso, muitas vezes narrativa, ágil, com temas encadeados como numa espiral: “convoluções de convolutas voltas/ em órbita de um algo”. Ou pela tematização de um tempo que foge, associado ao mal: “a maligna engrenagem do relógio”. Mas pela permanente sensação de uma inadequação, de um mal-estar — “mal” é palavra frequente ao conjunto — que parece fazer de seu título, No tropical Parnaso, não o simples transladar ou o encontro da idílica paisagem ou de sua poesia em nossa condição, por assim dizer, tropical. É como se pairasse uma tensão, um desassossego, tanto mais pela epígrafe de Gilberto Freyre e por uma “tropicologia” que atravessa a sua obra, lembrando que o trópico é também uma imagem do círculo.
Cabe ao leitor, entretanto, singrar esses espaços que são também os do embate entre a poesia e o antipoético, o pensamento e a ruína, o sagrado e o profano, “instáveis elementos”, diz-nos, que o poeta escande, sílaba a sílaba, com uma atenção ao que há em cada palavra de víscera e viço.
És tu, Senhor, quem troca no meu tórax
A pedra que se veste aí de víscera
Por víscera que vige, e aonde moras;
Então, quanto cultivo, é quanto viça,
Então as sílabas que escando, tantas,
A só ressoam que contigo cantas.
Pablo Simpson é poeta, tradutor e professor do Departamento de Letras Modernas da Unesp. Autor de O Rumor dos Cortejos (Editora Unifesp, 2012), Rastro, Hesitação e Memória (Editora Unesp, 2017) e O Tio da Caminhonete (Editacuja, 2021).



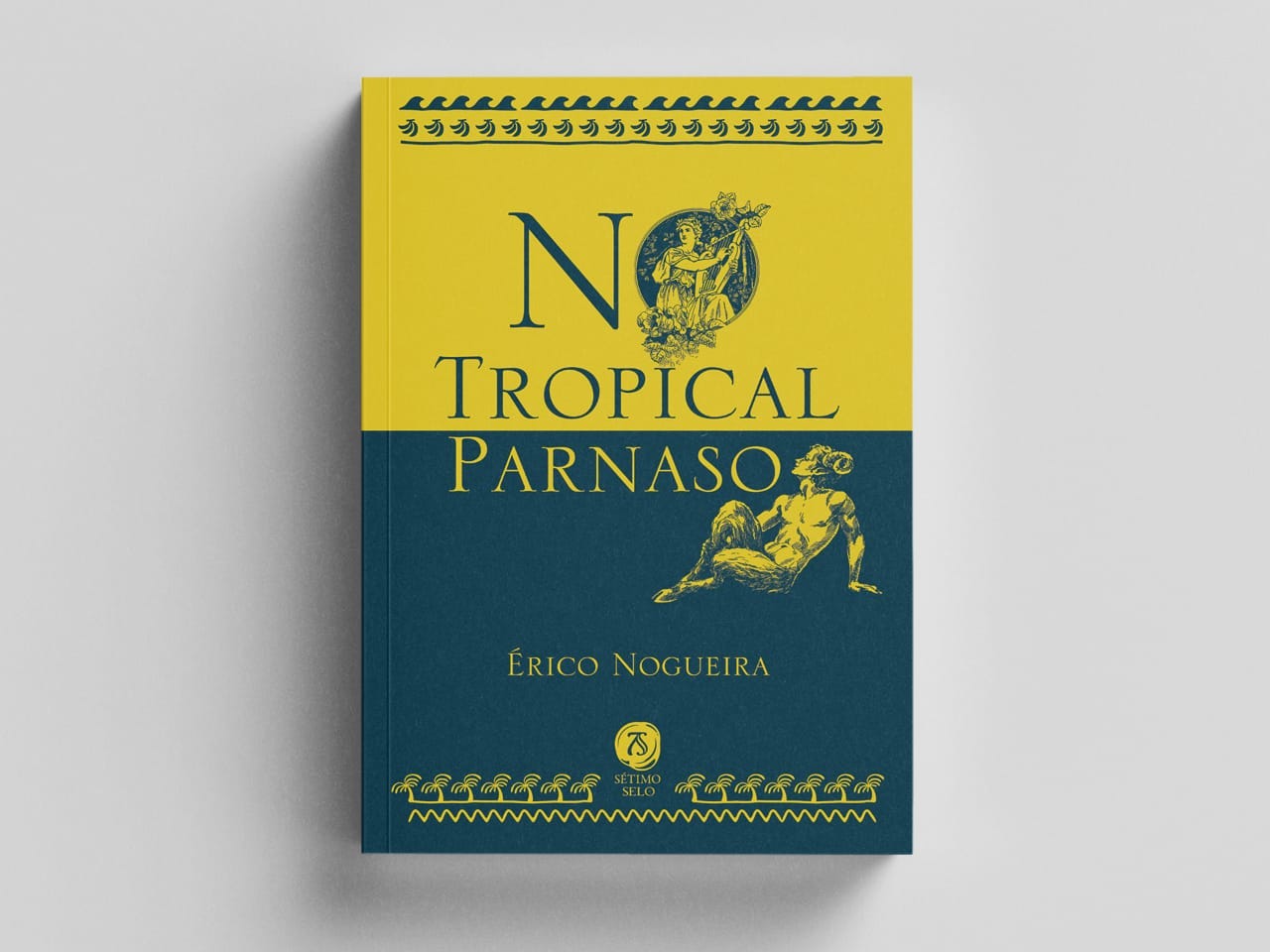

Apreciei a leitura.